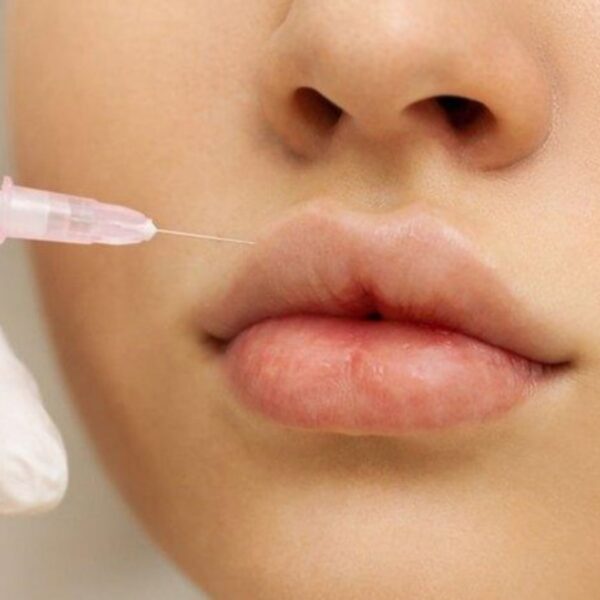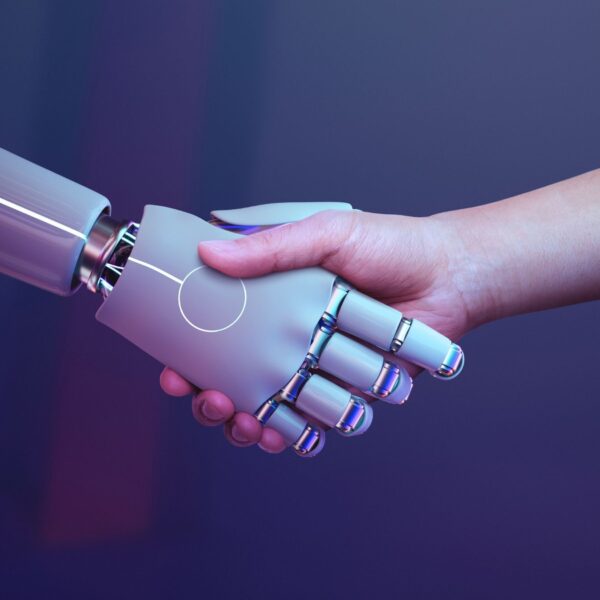A crescente exposição a informações sobre eventos climáticos extremos vem intensificando sintomas ansiosos, sobretudo entre crianças e jovens. Esse fenômeno, conhecido como ansiedade climática, reflete um campo recente de atenção na saúde mental e na psicologia contemporânea.
A ansiedade climática emerge a partir da percepção de riscos ambientais e da sensação de imprevisibilidade frente ao futuro. Ao acompanhar notícias sobre desastres naturais, aquecimento global e perda de biodiversidade, muitos indivíduos desenvolvem inquietações persistentes que se estendem além das preocupações habituais. Diferencia-se de outros quadros ansiosos porque se vincula diretamente à esfera coletiva e à consciência sobre a sobrevivência planetária, não apenas a experiências individuais.
Entre os efeitos observados, destacam-se manifestações emocionais como medo constante, angústia e sensação de impotência, bem como repercussões fisiológicas, incluindo alterações do sono, fadiga e dificuldades de concentração. Em crianças e adolescentes, esse impacto tende a ser mais pronunciado, uma vez que o desenvolvimento psíquico ainda se encontra em consolidação e a capacidade de elaborar perspectivas futuras pode ser comprometida.
Em meio a esse cenário, torna-se necessário reconhecer que muitas crianças têm sido expostas, de forma precoce, a narrativas que não correspondem à sua etapa de maturidade emocional. Ao se depararem com informações sobre catástrofes ambientais e cenários de colapso climático, sem mediação adequada, esses jovens acabam assumindo encargos simbólicos que não podem sustentar, desenvolvendo sentimento de culpa que não encontram possibilidade de elaboração.
Tal dinâmica, em vez de promover consciência ou engajamento, tende a paralisar e enfraquecer o desenvolvimento psíquico, reforçando um ciclo de impotência. A responsabilidade social e ambiental, embora imprescindível, só alcança efeitos construtivos quando comunicada em conformidade com a idade e a capacidade de compreensão. Caso contrário, o processo educativo se converte em sobrecarga emocional, sem abertura para ação criativa ou crítica. É nesse ponto que se impõe a necessidade de revisão das práticas educativas e comunicacionais, de modo a alinhar a transmissão de informações às condições subjetivas de cada faixa etária, garantindo que a formação cidadã não se transforme em fonte de angústia paralisante.
A ansiedade climática também se caracteriza por uma dimensão social. Ao contrário de outras formas de ansiedade, frequentemente centradas em questões pessoais, ela remete a processos coletivos e intergeracionais. Nesse sentido, pode afetar vínculos familiares, escolhas profissionais e a relação dos indivíduos com sua comunidade e com os recursos naturais.
A educação socioemocional se apresenta como recurso relevante na mitigação desses efeitos. Ao favorecer a elaboração simbólica dos medos e a construção de narrativas mais integradas, possibilita que crianças e jovens desenvolvam maior resiliência diante de um cenário global marcado por incertezas. A formação escolar, quando associada ao desenvolvimento de competências emocionais, pode auxiliar na transformação da angústia em engajamento construtivo.
Outro aspecto fundamental é o consumo consciente de informações. O fluxo contínuo de notícias, sobretudo nas mídias digitais, pode intensificar a ansiedade climática quando não acompanhado de filtros críticos. Estabelecer limites de exposição, selecionar fontes confiáveis e cultivar intervalos de desconexão tecnológica configuram estratégias que permitem reduzir a sobrecarga mental gerada pelo excesso informativo.
Práticas de regulação emocional também exercem papel relevante. Exercícios de respiração, técnicas de atenção plena e atividades corporais favorecem o equilíbrio do sistema nervoso, ampliando a capacidade de enfrentar os estímulos ansiogênicos. Quando aplicadas de maneira sistemática, essas práticas podem reduzir sintomas e fortalecer recursos internos para lidar com a complexidade ambiental.
O acompanhamento psicológico torna-se necessário em situações em que a ansiedade climática compromete atividades cotidianas. O espaço terapêutico oferece condições para a elaboração dos medos e a construção de alternativas que aproximem o indivíduo de uma postura mais ativa e consciente em relação ao meio em que vive.
A ansiedade climática, ao articular dimensões emocionais, fisiológicas e sociais, revela-se como um desafio emergente da contemporaneidade. Reconhecê-la e compreendê-la é passo essencial para promover saúde mental e fortalecer a capacidade humana de conviver com as transformações ambientais em curso.
Ao refletir sobre esse tema, percebe-se que a resposta não se limita ao campo individual, mas envolve também a coletividade. O enfrentamento da ansiedade climática exige tanto a construção de práticas de autocuidado quanto o desenvolvimento de políticas públicas e de uma cultura educativa que possibilitem novas formas de relação com o planeta e com a própria existência.
- Neste artigo:
- Alma Clinica,
- colunista GLMRM,
- maria klien,